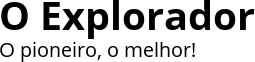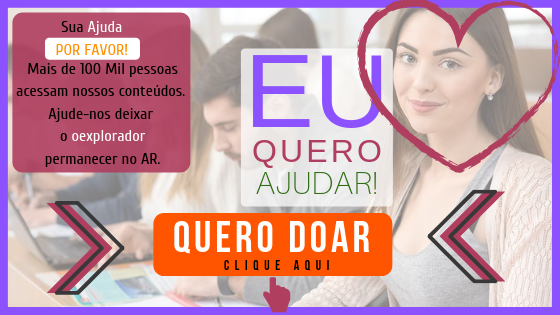Richard Gilman, crítico de teatro
Richard Martin Gilman (Brooklyn, 30 de abril de 1923 – Kusatsu, no Japão, 28 de outubro de 2006), dramaturgo e crítico literário cuja voz elegante e contenciosa ressoou por quatro décadas nas letras americanas, ganhando admiradores e inimigos da ferocidade partidária.
Gilman, professor da Yale School of Drama e autor de cinco livros de crítica e um livro de memórias, resistiu aos escaninhos, tanto ao descrever a si mesmo quanto aos dramaturgos sobre os quais escrevia.
Em um artigo no The New York Times em 1970 – um relato de suas experiências dirigindo uma peça em Yale – ele escreveu: – como alguém que ensina, escreve crítica de teatro (e outras coisas) e sente que a compulsão americana de tirar sua identidade de sua profissão, com seu corolário de apenas um ofício para um profissional, pode ser uma conveniência para a sociedade, mas é pesada e restritiva para si mesmo.”
Essa frase elaborada, com seus desvios autoconscientes e seu salto do pessoal para o didático, é Gilman vintage. O romancista D. M. Thomas o descreveu como “um dos críticos menos modestos que se poderia imaginar”. O Sr. Gilman era de fato, como ele sugeriu, uma espécie de híbrido, e não apenas em sua profissão. Seu estilo distinto como escritor se equilibrava entre a erudição acadêmica e o jornalismo popular.
Sua maior fama, no entanto, sem dúvida veio de sua associação com o teatro e suas definições combativas do que deveria e do que não deveria ser. Como crítico de drama na Commonweal e mais tarde na Newsweek, ele normalmente defendia o iconoclasta e o enigmático: os diretores Jerzy Grotowski (1933—1999), Joseph Chaikin (1935-2003) e Peter Brook; os dramaturgos Harold Pinter e Peter Handke. E ele descartou consistentemente a tarifa comercial mais naturalista encontrada na Broadway.
“As pessoas ainda vão ao teatro para se identificar com os personagens, não tendo sido informadas de sua morte”, escreveu ele certa vez, com admiração sardônica, sobre o público do teatro convencional. Peças, ele disse em “The Making of Modern Drama” (1974), seu trabalho mais ambicioso e possivelmente seu melhor, deveriam ser “encenações da consciência” que libertam a mente das percepções tradicionais. O que ele se opunha, disse ele, era “a transformação da arte dramática em cultura – algo para usar como um depósito de sentimentos e reconhecimentos ‘superiores’”.
O Sr. Gilman fazia parte de uma espécie de filósofos-críticos, incluindo Robert Brustein e Eric Bentley (1916-2020), que ganharam destaque nas décadas de 1950 e 1960. Eles localizaram no drama moderno os elementos de abstração, alienação e absurdo que há muito estavam no centro das discussões de outras formas de arte e literatura. Para muitos desses escritores, a história essencial do teatro desde o final do século 19 foi, como escreveu Gilman, “um registro de tentativas de trabalhar livre do pântano das ilusões”.
Mas poucos dos colegas de Gilman foram tão extremos quanto ele ao insistir que o gênero transcende o representacional. Em vez de imitar a realidade, disse ele, o teatro deveria oferecer alternativas a ela. A arte, argumentou Gilman, deveria colocar seu público “na presença de uma vida que nossas próprias vidas são impotentes para desenterrar”.
Essa busca pelo inefável era mais do que uma busca profissional. Em sua obra mais pessoal, “Faith, Sex, Mystery: A Memoir” (1987), o Sr. Gilman, nascido judeu, escreveu eloquentemente sobre sua conversão aos 27 anos do ateísmo ao catolicismo romano. Ele deixou a igreja depois de oito anos, embora se recusasse a reduzir esse episódio de sua vida a soluções psicológicas.
“O ponto sobre o espiritual com o qual eu começo e quero investigar mais é que não é coincidente com o psicológico, não é simplesmente um termo arcaico para isso”, escreveu ele. “Algo misterioso transborda.”
O mistério, ele acreditava, também era o que mais definia a grandeza na arte, e essa percepção inevitavelmente o levou a escrever tanto sobre o que uma obra não era quanto sobre o que ela era. Ele disse, por exemplo, que Georg Büchner, o dramaturgo alemão do século 19 e autor de “Woyzeck”, “deu forma e expressão ao que não tinha permissão para acontecer, o que ainda restava ser dito”.
Chekhov, escreveu ele, “despojou a arte de todos os propósitos de consolação e exortação”.
Richard Martin Gilman nasceu em 30 de abril de 1923 e cresceu no Brooklyn, filho de Jacob Gilman, advogado, e Marion Wolinsky Gilman. Depois de se formar na James Madison High School, no Brooklyn, em 1941, matriculou-se na Universidade de Wisconsin. De 1943 a 1946 serviu no Corpo de Fuzileiros Navais no Pacífico Sul, chegando ao posto de sargento, depois retornou a Wisconsin para completar seus estudos e se formar em 1947.
Na década de 1950, morando em Greenwich Village, ele escreveu críticas literárias e resenhas como escritor freelance antes de ingressar na Commonweal como crítico de teatro, uma profissão que ele disse nunca ter aspirado. “Eu não tinha formação em teatro, nada além de uma perspectiva amadora”, ele lembrou mais tarde.
No entanto, foi precisamente essa perspectiva de fora que fez Gilman se destacar tanto na Commonweal quanto na Newsweek, onde foi crítico de teatro de 1964 a 1967. Sua abordagem era mais frequentemente literária, ou mesmo filosófica, do que estritamente orientada para a performance. Como escreveu o crítico Walter Clemons, “a superfície de um evento teatral ocupa menos sua atenção do que o núcleo de seu significado”. (O sr. Gilman, portanto, teve pouca utilidade para críticos como Walter Kerr (1913-1996) e Kenneth Tynan (1927-1980), que eram celebrados por suas descrições imediatas e sensoriais de atores e atuação; ele preferia a autoconsciência cerebral de Susan Sontag.)
Essa perspectiva atraiu reações acaloradas de alguns colegas intelectuais de Gilman. Descrevendo sua experiência como crítico de teatro, Gilman escreveu: “O único efeito que pude discernir, além das poucas mentes que eu poderia ter ensinado a ver o drama de forma um pouco diferente, foi que ganhei a reputação de ser azedo, hipercrítico, um forasteiro reclamando da festa para a qual não foi convidado.”
De fato, seu primeiro livro, “The Confusion of Realms” (1970), uma coleção de ensaios sobre assuntos de Eldridge Cleaver (1935-1998) ao Living Theatre, foi atacado por Gore Vidal em Commentary e Philip Rahv (1908-1973) em The New York Review of Books. “Senhor Gilman demonstrou ao longo dos anos um gosto quase imodesto por conversões”, escreveu Rahv, “e no momento ele está evidentemente se esforçando para se lançar no papel de um expoente líder do Novo – do Novo a todo custo. , nisso – e como um expoente das artes do Now.”
Outros encontraram motivo de regozijo nesse mesmo ponto de vista. Em uma resenha de “Realms” no The New York Times, John Leonard, que descreveu os escritos de Gilman como “crítica de confronto”, escreveu que “lutar com sua perspectiva é lidar com os próprios preconceitos flácidos; ser despertado do torpor para uma luta cultural”.
O Sr. Gilman foi professor na Escola de Drama da Universidade de Yale de 1967 até sua aposentadoria em 1998. Entre seus alunos estavam os dramaturgos iniciantes Christopher Durang, Wendy Wasserstein (1950-2006) e Albert Innaurato (1947-2017). Ele também foi palestrante ou professor visitante em Columbia e Stanford e no Barnard College.
O Sr. Gilman foi presidente do PEN American Center, o maior dos 82 centros da associação internacional de escritores, de 1981 a 1983, e em 1971 recebeu o Prêmio George Jean Nathan de crítica dramática. Ele também foi o autor de “Common and Uncommon Masks” (1971) e “Decadence: The Strange Life of an Epithet” (1979).
Uma coleção de ensaios de Gilman, “The Drama Is Coming Now: The Theatre Criticism of Richard Gilman, 1961-1991”, foi publicada pela Yale University Press em 2005. Mas seu último livro original, “Chekhov’s Plays”, uma obra- análise por obra do dramaturgo russo, apareceu em 1996.
Revisando-o para a The New York Review of Books, Aileen Kelly disse que a “exposição de Gilman da relação entre as ideias de Chekhov e suas técnicas dramáticas deveria ser leitura obrigatória para os produtores e críticos que persistem em interpretar as peças como estudos sobre fracasso e desespero.”
Seu subtítulo reflete o que o Sr. Gilman buscou ao longo de sua carreira: “Uma abertura para a eternidade”.
Richard Gilman faleceu em 28 de outubro de 2006 em sua casa em Kusatsu, no Japão. Ele tinha 83 anos.
Sua morte, após muitos anos de doença, foi anunciada por sua filha Priscilla Gilman, que disse que ele foi originalmente diagnosticado com câncer de pulmão terminal em 1997.
Dois casamentos anteriores – com Esther Morgenstern, pintora e dançarina, em 1949, e com Lynn Nesbit, a agente literária, em 1966 – terminaram em divórcio. Em 1992, casou-se com Yasuko Shiojiri, que havia traduzido seus livros para o japonês. Ela sobrevive a ele. Além de sua filha Priscilla, de Manhattan, ele também deixa outra filha, Claire Gilman, também de Manhattan; um filho, Nicholas, da Cidade do México; uma irmã, Edith Axelrod, de Nova Jersey, e quatro netos.
(Fonte: https://www.nytimes.com/2006/10/31/theater – New York Times Company / TEATRO / De Ben Brantley – 31 de outubro de 2006)