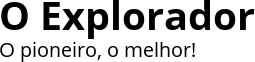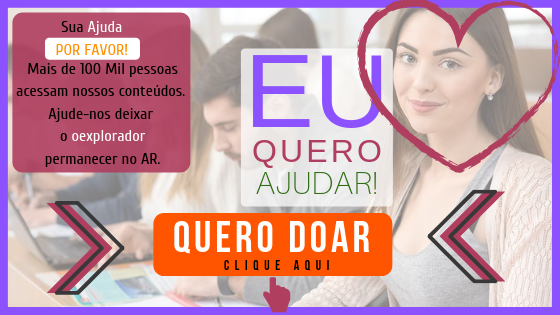O som do século XX, significando tudo
Igor Feodorovich Stravinsky (1882-1971), compositor e regente, considerado o maior músico do século XX. “Considero a música, pela sua essência, incapaz de exprimir o que quer que seja: um sentimento, uma atitude, um estado psicológico, um fenômeno da natureza.” Igor Stravinsky (1935). Seria talvez melhor que ele tivesse dito: “Considero a música de Stravinsky etc. E mesmo assim estaria mentindo. Um homem não dedica quase oitenta dos seus 88 anos de vida ao frenesi do ritmo, à reverência aos românticos italianos, ao folclore russo, ao exotismo oriental, ao burlesco estaria mentindo. Um homem não dedica quase oitenta dos seus 88 anos de vida ao frenesi do ritmo, à reverência aos românticos italianos, ao folclore russo, ao exotismo oriental, ao burlesco, à antiguidade grega, e nem seria capaz de um pronunciamento tão profundo – “temos um dever para com a música: inventá-la” – se não acreditasse obstinadamente que a música pode exprimir sentimentos, atitudes, estados, fenômenos, o amor, a vida, a morte – e, no seu caso particular, às vezes tudo isso ao mesmo tempo. Aos nove anos, encantado e encantando com suas precoces habilidades ao piano, ele apenas sentia um pai distante e a nenhuma afeição que a mãe lhe dedicava. Foi como se tivesse jurado: Hei de mostrar-lhes! Aos 86 anos, dois antes de sua morte, confessava que tudo isso passou e que não tinha nada mais a mostrar, e muito menos quem pudesse contemplar. Chamou-se de última testemunha. E não estava mentindo. No início de abril, Stravinsky se livraria enfim da agonia de ser um sobrevivente de revoluções coroadas nas academias. “A dor mais profunda é a dor moral”, confessava ele aos 84 anos, “Ser tão velho é uma doença que só tem uma cura. Não se passeia mais pelas ruas, arrasta-se. Não me lembro do que aconteceu no dia e os fatos de setenta anos atrás se tornam cada vez mais claros. Minha neta, que tem dois anos, se parece comigo quando tinha dois anos. O fim será igual ao começo?”
Glória e desgosto – Consideravam-no uma relíquia, uma espécie de talismã. “Talvez queriam saber se estou mesmo vivo”, queixava-se, “e por isso me tocam com os dedos. Mas posso me considerar feliz: Mao Tsé-tung, para mostrar que estava vivo, teve que nadar alguns quilômetros num rio”. Aborrecia-se com tanta glória (“o maior compositor do século”), tocava suas cinco horas de piano por dia e na sua casa em Hollywood, onde morava desde 1940, praticava ioga até que a primeira de uma série de embolias, em 1967, abriu a sua penosa trajetória de vivo com restrições. Gigantesco, deixou uma descendência obscura: dois filhos e uma filha. Filho de uma Rússia que não existe mais, falava um inglês sonoro e carregado do sotaque de sua terra, de onde saiu em 1914 para só voltar em 1962 e ser aclamado, enquanto chorava, pelos moradores de Leningrado: lá ele nascera, mas a cidade se chamava então São Petersburgo. Católico, foi enterrado segundo os ritos ortodoxos do seu país inexistente. Revolucionário, provocou escândalos, foi cortejado pelo mundo todo, orgulhou-se da sua posição e um dia (em 1946) escreveu um livrinho (Poétique Musicale) onde punha fim a si mesmo e desencorajava todas as eventuais vanguardas: Existe um ponto de vista geral afirmando que os tempos em que apareceu A Sagração da Primavera viram realizar-se uma revolução. Protesto. Erradamente consideraram-me um revolucionário: deram-me esse título contra a minha vontade.
Quase um operário A moda intelectual do século ensina que fica bem a um verdadeiro gênio ser paradoxal: sua genialidade já antecipa um perdão. Se Igor Feodorovich Stravinsky tocava piano desde menino, se aos quinze anos já freqüentava a casa do seu mestre seu grande e jamais esquecido mestre Rimsky-Korsakov e com pouco mais de trinta era ídolo e tema de discussões violentas com o balé A Sagração da Primavera (1913), como acreditar nas suas palavras? Ele, no entanto, insistia nelas: “Nenhuma forma de música deve ser classificada de revolucionária”. E por quê? “Porque a arte é construtiva por sua essência e a revolução implica uma ruptura de equilíbrios.” É fácil adivinhar as cóleras que essas declarações provocariam se fossem ditas na Rússia de 1913. Para Stravinsky, o título de “artista” era quase desumano: “confere àquele que o usa o mais alto prestígio intelectual, o privilégio de passar por ser um puro espírito. Esse orgulho é incompatível com a condição do “Homo faber”, do artesão”. Como artesão, ele detestava especulações abstratas: queria trabalhar com matéria concreta, “meter a mão na massa”.
Um de seus biógrafos, Robert Siohan, descreve sua sala de trabalho como se fosse uma oficina:frascos de tinta – cuidadosamente alinhados, uma coleção de canetas, um instrumento de sua invenção para traçar pautas, o “stravigor” – tudo em cima do piano. Seria simples concluir (mas ele era um gênio) que sua arte é realista. Nada disso: “O real dizia ele, é simplesmente tudo que contribui para a elaboração técnica de uma obra”.Os primeiros ouvintes da “Sagração” (um escândalo, no dia 29 de maio de 1913, uma consagração, quando apresentada em forma de concerto um ano depois) ficaram impressionados com a atmosfera russa que se desprendia dos sons. Foi só em 1939 que outros – como o crítico Olivier Messiaien – abriram bem os ouvidos: “Ele realmente inventou, em suas peças, um sistema rítmico. Soubesse ou não, teve precursores: Rimsky-Korsakov, Debussy, Schoenberg e Gârngadeva, o grande ritmista hindu do século XIII”. Para o maestro francês Pierre Boulez, nem cinquenta anos bastariam para desgastar o potencial de novidades da obra que, paradoxalmente, ele centra num só ponto: seu ritmo. E Stravinsky dá razão a ambos: “Qualquer de minhas peças pode sobreviver a quase tudo, menos a um tempo errado ou vago”.
Como um pêndulo – Para ele, tempo era ritmo: uso pessoal da síncope, valor das pausas, deslocação das acentuações. Foi também um grande melodista – mas aí tranquilamente tradicional. Pensou (e escreveu) então: “Começo a concordar, junto com o grande público, que a melodia deve estar no alto dos elementos que compõem a música”. Do ponto de vista da harmonia, jamais quis – ou conseguiu – romper totalmente com o passado. Chegou a usar a politonalidade e avançou na década de 50 para a técnica serial (por insistência do regente Robert Craft, que relata o episódio num livro, “Retrospectives and Conclusions”, 1969), mas sempre conservando “centros tonais”: era um tímido, ante o audacioso Arnold Schoenberg, que por sua vez se tornava um tímido ante o brilho de Stravinsky orquestrador. As primeiras partituras (entre 1905 e 1907) dizem pouco do autor. “O Pássaro de Fogo” (1910) é a sua primeira obra reveladora, “sonoramente selvagem”, segundo Sergei Diaghliev, o “pai do balé russo” e provável responsável pelo fato de que vários trabalhos seguintes destinaram-se ao balé: “Petruchka” (1911), “Sagração”, “Pulcinella” (1919). Balé que talvez não passasse de pretexto: “A música desse senhor não convida à dança, mata-a”, queixava-se outro criador de balé, Serge Lifar. As influências vinham de Korsakov, Debussy e Ravel, mas o ritmo era, sem dúvida, todo seu e inspirado na “Rússia pagã”, às vezes em “duas partes.
Nos dez anos seguintes começou a esquecer-se da Rússia – agora União Soviética – e a tornar-se “cosmopolita”. Na linha da “Sagração” vieram “A História do Soldado” (1918), “Mayra” (1921), “Bodas” (1923), “Mayra” é um pasticho do mais acidentado dos russos, Tchaikóvsky, e o Octeto para Instrumento de Sopro (1923) e o Concerto para Piano e Orquestra de Sopro (1924) são de inspiração bachiana. Em seguida sucumbiu aos atrativos da mitologia grega (“Édipo Rei”, 1927). Foram talvez seus dias menos brilhantes. Os críticos deploravam a “gratuidade evidente” de obras como “Apollon” (1927) e “Jogo de Cartas” (1936), reconhecendo no entanto sua “perfeita escritura”. Já nos Estados Unidos, não passou de “um oportunista” quando trabalhou com os músicos de jazz Woody Herman (“Ebony Concerto) e Paul Whiteman (Scherzo à Russa), em 1945.
Num mundo estranho – Stravinsky, que sempre viu os críticos como “incompetentes até para julgarem uma gramática”, só dava ouvidos a Craft, seu amigo desde os primeiros dias nos Estados Unidos. Dessa amizade e consideração nasceram “Cantata” (1951), composta com poemas ingleses dos séculos XV e XVI, e Septuor (1953), onde emprega a técnica serial usando um único grupo de cinco notas e confirmando seus postulados da juventude: “Quanto menos liberdade me concedo, mais meu trabalho é purificado e livre”. As vanguardas o hostilizaram: acusavam-no de ter chegado tarde demais. Teria mesmo?
A essa altura Igor Stravinsky já era “a” música moderna, como Picasso é “a” pintura moderna. Pairava acima do bem e do mal. Compôs um pomposo “Canticum Sacrum ad Honorem Sancti Marci Nominis” (1956), e no Rio de Janeiro, onde esteve em 1963, regeu a sua “Missa Para Coro Misto”. Debussy, que o admirava, uma vez previu que, “quando velho, Stravinsky será insuportável, isto é, não suportará nenhuma espécie de música”. Talvez. Trabalhava pouco desde sua doença (sua obra mais recente, que se saiba, é uma “Elegia a J. F. Kennedy”, usando poemas de W. H. Auden), mas já abdicara totalmente ao trono que nunca considerou verdadeiramente seu: Na minha juventude, a nova música nascia de uma reação contra a tradição. Hoje ela responde mais a uma necessidade social do que pessoal.
E sustentava: Os músicos mais representativos de nossa época (1969) são Pierre Boulez e Stockhausen, principalmente este, se lembrarmos que em dez anos a música eletrônica passou dos laboratórios secretos às trilhas sonoras de filmes comerciais como Candy. Ironia? Talvez: Ignoro o que será feito amanhã. Só posso ter consciência da minha verdade de hoje. Para um hoje que durou meio século, numa vanguarda nem sempre entendida e às vezes odiada. Igor Stravinsky comportou-se como um grande herói, entoando até o fim sua voz talvez abafada pelos sons de um mundo no qual sobrevivia a contragosto, com odiosos lapsos de memória, com este tirano estranho, a saúde, dominando-nos da cabeça aos pés, e vivendo como quem acorda no meio da noite num quarto de hotel estranho e não sabe quem é nem onde está. Igor Stravinsky morreu no dia 6 de abril de 1971, em Nova York, de um ataque cardíaco, aos 88 anos, assistido por sua mulher Vera e pelo regente Robert Craft, um dos seus biógrafos.
(Fonte: Veja, 14 de abril, 1971 Edição n.° 136 DATAS – Pág; 61 Música – Pág; 47/48)
- Igor Feodorovich Stravinsky (1882-1971), compositor e regente
- Igor Feodorovich Stravinsky (1882-1971), compositor e regente
- Igor Feodorovich Stravinsky, compositor e regente
- Igor Feodorovich Stravinsky, considerado o maior músico do séc. XX
- Igor Feodorovich Stravinsky