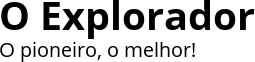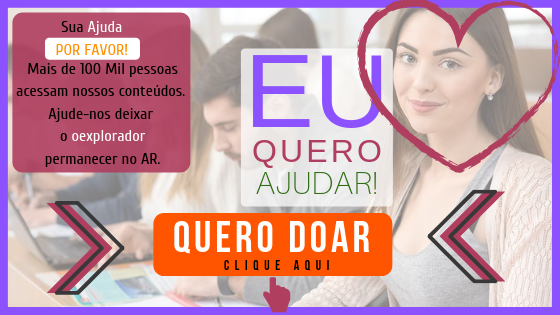Encarregado do IPM acusou de coação seu chefe no 1º Exército

General Gentil Marcondes Filho teria pressionado o encarregado do IPM do Riocentro – (Arquivo O Globo 01/05/1981)
Do presidente ao capitão, toda a cadeia de comando pressionava para encobrir militares
Gentil Marcondes Filho, general e ex-comandante do 1° Exército, era comandante do 1° Exército em 1981, quando aconteceu a explosão do Riocentro
Gentil Marcondes era militar da reserva e seu último posto de comando foi o 1° Exército, período em que explodiram (em 31 de abril de 1981) duas bombas no Riocentro, durante um show de música popular.
As bombas estavam na casa de força e no interior de um Puma e vitimaram dois militares: o sargento Guilherme Pereira do Rosário (que morreu) e o capitão Wilson Machado.
Para apurar o fato, Gentil Marcondes designou, inicialmente, o coronel Luís Antônio do Prado Ribeiro, que se afastou alegando motivos de saúde.
Em seu lugar entrou o coronel Job Lorena de Sant’Anna, que presidiu o IPM (Inquérito Policial Militar) cuja conclusão apontou os militares que estavam no Puma como vítimas de uma armadilha.
O general Gentil Marcondes foi quem presidiu o ato de apresentação à imprensa do resultado do IPM, proibindo qualquer pergunta sobre o assunto.
A escolha de figueiredo
Dezoito anos depois das bombas do Riocentro, generais revelam que o ex-presidente não quis a apuração do caso nas mãos de Vinícius Kruel, optando pelo coronel Job Lorena, que assinou a farsa do IPM
No dia 30 de abril de 1981, o que era para ser um show de grandes nomes da MPB em comemoração ao Dia do Trabalhador virou uma das páginas mais infelizes da nossa história. No estacionamento do Riocentro, um Puma, tendo o capitão do Exército Wilson Machado ao volante, explodiu. Além de matar o sargento Guilherme do Rosário, a bomba atingiu em cheio o governo do general João Figueiredo, mudando não só a história do País como o humor do último general presidente. No dia em que o sargento era enterrado, a versão oficial já determinava que os militares haviam sido vítimas de um atentado, tese que foi comprovada por um Inquérito Policial Militar (IPM), montado para não apurar a verdadeira história. Nos porões do regime foi feito um acordo com a linha dura: a investigação seria uma farsa, mas os atentados contra entidades da sociedade civil e bancas de jornais acabariam.
Desde 15 de março de 1985, Figueiredo deixou a vida pública. Ele gostaria de entrar para a história como o general que desmontou a ditadura, mas no meio do caminho tinha o Riocentro. A decisão de não investigar marcou Figueiredo, que sempre procurou mostrar que não compactuou diretamente com a encenação do IPM. Figueiredo sustentava que deixou as investigações correrem de forma independente. “Afinal, não governei com o AI-5”, repetia. Dezoito anos depois, a versão começa a ruir.
O relato de uma reunião de generais no nono andar da antiga sede do Ministério do Exército, ao lado da Central do Brasil, no Rio, em 9 de maio de 1981, derruba a versão de que Figueiredo nada teve a ver com a farsa. A reunião foi convocada pelo ministro Walter Pires para escolher o substituto do coronel Luiz Antonio do Prado Ribeiro (pressionado, ele deixou o cargo) à frente do IPM.
O desfecho da reunião não deixa dúvidas sobre a opção do governo Figueiredo por negar que o tiro da linha dura saíra pela culatra. A intervenção do Planalto foi decisiva para salvar do banco dos réus os autores do atentado. É o que comprova documento que um oficial do Exército mantém em seu arquivo, em São Paulo. A reunião é confirmada pelo general Octávio Costa.
Pressionado por antigos companheiros do Serviço Nacional de Informações (SNI), Figueiredo temia que os radicais que se opunham à abertura e ao retorno dos exilados criassem problemas. Por isso, preferiu tolerar um IPM que acabaria por nada esclarecer. Apesar do tema explosivo, o general Pires se mostrava descontraído na cabeceira da mesa, próximo ao comandante do I Exército, general Gentil Marcondes Filho, e diante de mais quatro generais. O principal interlocutor de Pires foi o general Vinícius Kruel, um militar com prestígio na oficialidade, sobrinho do general Amaury Kruel, que em 1964 garantiu apoio, em São Paulo, ao Movimento contra João Goulart. Pires logo dirigiu-se ao general Kruel, dando início ao diálogo.
Gentil Marcondes faleceu no Hospital Samaritano, em Botafogo, de câncer. Ele tinha 67 anos.
(Fonte: http://www.arqanalagoa.ufscar.br – Da sucursal do Rio de Janeiro)
(Fonte: https://istoe.com.br – EDIÇÃO Nº 2502 – BRASIL – A escolha de figueiredo / Por HÉLIO CONTREIRAS 21.04.99)
“Eu devo dizer a vocês uma coisa que é muito importante”, anunciou o cantor Gonzaguinha para a multidão ruidosa. “No meio do espetáculo, explodiram, eu disse ‘explodiram’ duas bombas…” A plateia foi silenciando. “Essas duas bombas representam exatamente uma luta para destruir aquilo que nós todos queremos, uma democracia…” Emendou chamando ao palco Luiz Gonzaga, seu pai. Subiram acordes de “Vida de viajante”. Reconciliavam-se num dueto, depois de duas décadas distanciados, período em que o filho produziu 72 músicas, 54 vetadas pela Censura.
Do lado de fora do Riocentro, sobravam testemunhas do atentado, como o inspetor de segurança Jadir Cardoso de Oliveira e o vigia Magno Braz Moreira. Quando chegaram para trabalhar no centro de convenções, notaram a ausência da Polícia Militar. Inédito até para a PM: o 18º Batalhão recebeu ordem do coronel Fernando Pott para “não fornecer policiamento” e aquartelar “dois choques para pronto emprego”. Eram exigências do comandante da PM, Nilton Cerqueira. Ele telefonara a Pott de Brasília. Ex-chefe do DOI em Salvador, Cerqueira comandara a caçada no sertão ao ex-capitão Carlos Lamarca, desertor do Exército e terrorista urbano. Lamarca se rendeu, mas Cerqueira mandou executá-lo.
O inspetor Oliveira fazia a ronda pelo pátio e notou quatro carros estacionados em posições irregulares, dois próximos ao pavilhão central. Pediu por rádio que fossem abordados.
Magno Braz Moreira trocara a farda de soldado paraquedista pelo emprego na Servis, contratado pelo centro de convenções. Controlava a portaria para convidados quando apareceu um Puma com dois homens diante da guarita.
Solicitou credenciais. “O motorista disse que estavam ‘de serviço’ e pediu para telefonar” — contou. Apresentaram identidades militares e foram à Administração. Telefonaram. O vigia disse que não entendeu o que falaram, parecia código. Ficaram lá uns 15 a 20 minutos. Depois entraram no carro.
O motorista rumou para o estacionamento destinado ao público, lotado e silencioso. Retirou tíquete de entrada (nº 69239). O show havia começado.
Atrasado, Mauro Cesar Pimentel, de 19 anos, temia perder a apresentação de Fagner. Diante do pavilhão, percebeu ter esquecido a carteira no carro. Voltou, pegou e encarou o esportivo à frente, o Puma, um dos seus sonhos de consumo: “Observei bem o carro. Ele (o carona) conversava com o cara do lado, manuseando um objeto cilíndrico. Quando me viu, falou: ‘Pô, o que você tá fazendo aqui…’ Pedi desculpa, me virei e saí. Andei, e a explosão me jogou no chão.”
O inspetor Oliveira observava o pátio à distância: “Ele deu um ‘cavalinho de pau’ para entrar na vaga, parou, houve um estrondo e vi subir fumaça. Acionei os bombeiros, único órgão de segurança que apareceu naquele dia.”
Ainda no chão, Pimentel viu o motorista sair do Puma se arrastando: “Levantei, fui lá e segurei ele.” Conseguiu sentá-lo. Buscou um documento: “O cara é capitão do Exército!”, gritou.
As três testemunhas no pátio desmentem o capitão Machado na meia dúzia de depoimentos que deu nos últimos 33 anos. Em todos, isentou-se e culpou o sargento Rosário: não sabia e nem viu a bomba, parou e saiu do carro uma única vez, para urinar, voltou, acionou o veículo e aconteceu a explosão.
Às duas horas da manhã, Suely José do Rosário acordou com pancadas na porta do apartamento, em Irajá, Zona Norte do Rio. Abriu e encarou dois homens. À paisana, diziam ser do Exército — um deles mais tarde foi identificado como Wilson Monteiro Pinna, o “Agente Emerson”.
Ele estendeu-lhe um crucifixo: “Segure isso.” Trêmula, perguntou: “Cadê o Guilherme?” Ouviu: “Faleceu.” Chamou os filhos e foi ver o corpo do marido.
Passada a alvorada, o comandante do 1º Exército reuniu sua equipe. Quis saber se deveria ir ao enterro do sargento.
Naquela manhã de 1º de maio, Gentil Marcondes Filho teve a inesperada visita do general Oswaldo Pereira Gomes. Assessor do ministro do Exército, Walter Pires, Gomes recebera ordem de viajar ao Rio na madrugada. Sua missão era tripla: levar mensagem reservada do ministro a Marcondes Filho; se necessário, auxiliá-lo em aspectos jurídicos do caso; e, sobretudo, verificar “sua disposição para a apuração”. Não se conhece o teor da mensagem de Pires, mas sabe-se que o emissário considerou o comandante do 1º Exército “surpreendido pelos fatos”.
Marcondes Filho almoçou e foi visitar o capitão. Levou o chefe de Estado-Maior, general Armando Patrício, e o relações-públicas, coronel Job Lorena. Depois, seguiram para o funeral do sargento.
Os três ajudaram a carregar o caixão. Ao se despedir da viúva, o comandante ouviu: “E agora? Quem é que vai criar os meus filhos? A Pátria?” À saída, declarou que o sargento e o capitão estavam no Riocentro “a serviço do Serviço de Informações”. O porta-voz Lorena distribuiu uma nota: definia Rosário e Machado como “vitimados no atentado”.
O regime se mostrava, mais uma vez, enredado na própria armadilha: do presidente ao capitão ferido, toda a cadeia de comando evitava a responsabilidade por torturas, matanças e atos terroristas. O padrão de omissão, definido desde 1964, previa um epílogo com recompensas aos perpetradores — promoção, condecoração e garantia de impunidade.
No sábado 2 de maio, desembarcou no Rio Danilo Venturini, chefe do Gabinete Militar. Como o presidente, o general Venturini soube, com um mês de antecedência, do planejamento no DOI para atentado contra o show no Riocentro. Não se sabe se no ano anterior a Presidência foi informada sobre o veto ao plano terrorista contra idêntico espetáculo.
Venturini veio conversar com Marcondes Filho porque Figueiredo estaria no Rio na segunda-feira, para a festa de bodas de ouro de Emílio Garrastazu Médici, o presidente que criou o DOI. Viu em Marcondes Filho mais que um general aflito com o desastre produzido pelos subordinados — era imagem e tradução da desordem nos quartéis.
Na tarde de sábado 2 de maio, o chefe do Estado-Maior convocou o coronel Luiz Antônio Ribeiro do Prado para anunciar-lhe uma nova função: encarregado do Inquérito Policial Militar do Riocentro. Prado ficou surpreso. Burocrata, cuidava da Logística (a 4ª Seção). Sua intimidade com assuntos do setor de Informações equivalia à do corneteiro responsável pelo toque de alvorada. Alegou que enfrentava um problema familiar, com a filha hospitalizada, e havia dias estava ausente do quartel.
O general Patrício insistiu, era “uma ordem”. Justificou a escolha: desejava-se que o encarregado do IPM fosse mais “antigo” que o coronel Leo Cinelli, da 2ª Seção (Informações), a quem o DOI se reportava administrativamente. E que pertencesse aos quadros do Estado-Maior. Prado obedeceu. No domingo foi visitar o capitão Machado no hospital, acompanhado por Cinelli. Evitou perguntas.
Na segunda-feira 4 de maio, Prado foi chamado à sala do comandante. Na sua versão, Marcondes Filho recomendou-lhe conduzir o IPM “direitinho”. Prado entendeu como advertência e pressão para “encobrir o envolvimento dos militares”. Não se conhece a versão do general, morto por câncer no ano seguinte.
No cotidiano, segundo Prado, os gestos de coação partiam principalmente do chefe do Estado-Maior. Acusou Patrício diretamente, 18 anos mais tarde, em acareação no segundo IPM.
À noite, Marcondes Filho foi à celebração dos 50 anos de casamento de Emílio e Scyla Médici. Na igreja da Urca estavam os sucessores de Médici, o ex-presidente Ernesto Geisel e o presidente João Figueiredo, visivelmente tenso.
O comandante havia conversado brevemente e a sós com o presidente.
Na festa no Iate Clube, ele se reuniu com os generais Ednardo D’Avila Mello e José Luis Coelho Netto, personagens-símbolo do radicalismo militar.
Mello fora demitido por Geisel do comando do 2º Exército em 1975, depois dos assassinatos do operário Manoel Fiel Filho e do jornalista Vladimir Herzog no DOI em São Paulo.
Coelho Netto, uma referência no porão, comandara o Centro de Informações do Exército no governo Médici. Na era Geisel, amargou um posto inferior no SNI. Com Figueiredo, assumiu a 4ª Divisão, em Minas. No Iate, isolou-se em conversa com Marcondes Filho.
O ato terrorista no Riocentro era o mais recente episódio da série de bombas e incêndios em bancas de jornal no Rio e em Belo Horizonte. Conspirava-se contra a redemocratização do país.
(Fonte: https://oglobo.globo.com/brasil – BRASIL / POR JOSÉ CASADO – 30/03/2014)